Esta semana foi publicado um texto no The Atlantic, escrito por Ricardo Nuila, a respeito do “empurra-empurra” que acontece entre os profissionais da saúde quando o assunto é falar com os pacientes sobre a morte. Ricardo mostra que as dúvidas sobre de quem seria esta responsabilidade ainda são mais comuns do que imaginamos, e descreve o que o sistema de saúde americano tem feito para estimular a adequação deste tipo de conversa.
Segue abaixo a tradução livre do texto, que pode ser acessado na íntegra no link http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/08/palliative-care-medicare-end-of-life-ethics/400823/
 TEXTO TRADUZIDO
TEXTO TRADUZIDO
Quando Pedro Faust Tzul Menchu, um senhor de 45 anos com câncer de cólon, disse ao seu oncologista que ele não conseguia mover sua perna, um “alarme médico” soou. Ele tinha recebido quimioterapia uma semana antes, então seus outros sintomas (vômitos e icterícia) eram esperados. Mas a perda de mobilidade das pernas poderia ser um sinal de compressão do canal medular – quando uma infecção ou tumor comprime os nervos que passam por dentro da coluna vertebral – e uma potencial compressão do canal medular é geralmente tratada como uma emergência. Pedro foi encaminhado imediatamente para o hospital, onde eu o recebi. Meu papel, como responsável por ele, era me assegurar de que sua medula espinhal estava intacta.
Uma ressonância mostrou que o câncer tinha se espalhado para algumas das vértebras de Pedro e pelo seu abdome, mas não tinha comprometido sua medula. Todos os especialistas que consultei – neurocirurgiões, radiologista intervencionistas, outros oncologistas – recomendaram um pequeno procedimento para proteger as vértebras comprometidas para evitar uma futura compressão medular. Quando o final de semana terminou, deixei Pedro aos cuidados de um colega, uma vez que tipicamente rodiziamos os plantões às segundas-feiras. “Eles vão realizar o procedimento durante esta semana”, expliquei antes de ir embora. Pedro se sentou na cama, apertou minha mão e agradeceu.
Só mais tarde eu me dei conta de que eu nunca cheguei a dizer a Pedro o quanto ele estava perto de morrer. Seu câncer tinha se espalhado mesmo após duas linhas de quimioterapia, uma cirurgia agressiva para retirada do maior volume possível de tumor e vigilância constante através de tomografias e outros exames. Isso significava que seu menor problema era a falta de mobilidade nas pernas, e sim que sua vida provavelmente terminaria dentro dos próximos 6 meses.
Durante nosso primeiro encontro na enfermaria do hospital, Pedro me confidenciou o quanto ele estava feliz por ter um médico que podia falar com ele em sua língua nativa, o espanhol. “É tão bom ser compreendido”, ele disse. “Graças a Deus, você vai encontrar uma forma de me ajudar.” Nós não conversamos apenas sobre sua medula espinhal. Cada vez que nos encontrávamos, falávamos sobre sua antiga vida na Guatemala.
Por várias vezes, Pedro estava acompanhado da família durante as visitas, então eu pude conversar com eles todos juntos sobre os próximos passos que seriam dados. “Eu sinto muito, mas parece que o câncer cresceu”, eu disse a eles. Mencionei os procedimentos que viriam a seguir, a possibilidade de radioterapia, como o oncologista vinha considerando a possibilidade de uma terceira linha de quimioterapia, mas admito que eu nunca conectei completamente os pontos junto com eles. Contar a ele exatamente o que tudo aquilo significava, e como era quase certo que ele morreria mais cedo do que imaginava, era difícil demais. Como qualquer bom médico, eu sei como manter o foco dos pacientes nos pontos positivos – “sua família está aqui” ou “é bom ver que você está conseguindo se sentar”- no que diz respeito à sua situação real. Mas havia algo em Pedro, com seu sorriso tranquilo e sua forma delicada de me pedir ajuda, que tornava ainda mais difícil ter coragem para lhe dar as más notícias.
A filha de Pedro parecia perceber minha hesitação. Ela não devia ter mais que 8 anos, mas me encarava com olhos desconfiados, como se eu comandasse a vida do seu pai. Cada vez que ela fazia isso, eu sorria para ela e voltava minha atenção para Pedro. “Há algo mais que eu possa fazer por você?”
Alguns dias depois, viajei para Chicago para participar de uma discussão que envolvia paliativistas do mundo todo, além de advogados, assistentes sociais e médicos generalistas (como eu), bem como representantes de organizações como a American Association of Critical Care Curses e a Society of Hospital Medicine. A questão central: como podemos melhorar o cuidado no final da vida dentro do hospital? Enquanto cada um trazia uma perspectiva diferente, o que nos unia era o quanto a experiência com mortes no hospital tinha causado impacto em cada um de nós – o quão impessoal tinha sido, quão mecânico, quão desumano. Uma das participantes descreveu a perda de seu marido de 36 anos com diagnóstico de câncer de cólon metastático. Apesar de ambos terem contato com vários médicos todos os dias, enquanto seu jovem marido estava sofrendo intensamente com a falta de ar no final de sua vida, nenhum deles se dispôs a falar sobre o que era inevitável. “Ninguém nos disse nada”, ela contou.
Voltei meus pensamentos para Pedro. Por não falar com ele sobre o significado real da progressão do seu câncer, eu o teria condenado a uma morte hospitalizada, que poderia envolver desfibrilações cardíacas se seu coração parasse de bater, e alimentos por sondas, e medidas de sinais vitais a cada 4 horas perturbando seu descanso? A razão de eu ter sido convidado para aquela discussão tinha sido um artigo que escrevi sobre minha dificuldade em oferecer cuidados no final da vida. Eu tinha descrito um paciente em particular, proveniente da Guatemala, que não queria passar suas últimas semanas indo constantemente à Sala de Emergência para receber analgésicos. Com a ajuda do consulado, meus colegas e eu conseguimos ajudá-lo a realizar seu desejo de retornar ao seu país para morrer. Mas o interesse e cuidado que eu tive com esse paciente não significou nada para o próximo. Eu não contei a Pedro sobre seu prognóstico, e simplesmente fiz meu trabalho.
Ou contar a ele também era um trabalho meu? No mês passado, o Medicare anunciou que começaria a remunerar profissionais da saúde pelas discussões envolvendo as opções do paciente no final da vida, iniciando um novo debate sobre como, exatamente, deveriam ser tais discussões. De quem é a responsabilidade de determinar junto a um paciente quantas vezes ele deseja receber uma desfibrilação se seu coração parar? O médico da UTI? Quem deveria dar ao paciente um prognóstico detalhado de sua situação e uma estratégia clara para o futuro? O oncologista? Uma das palavras que permanece em meus pensamentos desde que voltei de Chicago foi “propriedade”. No sistema médico americano, com todos os seus experts e protocolos, pode ser muito difícil definir apenas um profissional como responsável pelo cuidado de um indivíduo. Isso quer dizer que determinadas tarefas “indigestas”, como contar a alguém que ele vai morrer, acaba caindo em brechas das divisões de responsabilidade.
Mas não posso deixar de pensar que, no caso de Pedro, o responsável era eu, e eu falhei. Eu não era seu oncologista, nem seu radiologista intervencionista, mas entre todos os seus médicos eu era o que conseguia me comunicar melhor com ele. Eu falava sua língua. Do jeito que vejo agora, não há como garantir que pacientes como Pedro recebam aconselhamento sobre as diferentes opções disponíveis (talvez ele não quisesse enfrentar mais uma linha de quimioterapia, por exemplo) ou ajuda para explicar suas decisões sobre o final de sua vida para os familiares (talvez ele não quisesse terminar seus dias numa UTI).
De acordo com a nova proposta do Medicare, qualquer membro qualificado da equipe (um médico, uma enfermeira, um assistente) poderia ser ressarcido pelo tempo despendido para discutir todos os diferentes procedimentos e intervenções que um paciente como Pedro poderia enfrentar. Se isso tivesse sido levado em conta durante a internação de Pedro, alguém poderia ter percebido minha hesitação e falado comigo sobre isso, ou talvez ter tido ele próprio a conversa com Pedro (e recebido por ela). O ressarcimento do esquema do Medicare não apenas incentiva o acontecimento de discussões difíceis e delicadas, mas também determina uma responsabilidade. É uma forma de estabelecer uma propriedade sobre uma conversa difícil.
No dia seguinte ao término do encontro em Chicago – o mesmo dia em que o Medicare anunciou seus novos planos – eu tentei encontrar Pedro no hospital. Eu não estava escalado para trabalhar naquele dia, mas achei que deveria resolver minha dificuldade de comunicação explicando a ele o que os resultados de seus exames realmente significavam. Infelizmente, Pedro já tinha ido embora. O procedimento em sua coluna tinha sido feito sem intercorrências e ele tinha tido alta.
Um mês depois, eu vi seu nome numa das portas da unidade de tratamento de câncer. Desde nosso último encontro, ele tinha perdido muito peso, e ele estava mancando desajeitadamente, mas de algum modo Pedro mantinha seu sorriso e delicadeza. Eu contei a ele que tinha pensado tanto em nossas conversas que tinha escrito um artigo sobre ele, e esperava que isso pudesse ajudar outros médicos a pensarem sobre como dar más notícias. Ele permitiu que eu usasse seu nome. Felizmente, outro médico tinha conseguido ter a tal conversa com Pedro. Ele e sua família sabiam que ele poderia morrer em breve, e estavam preparados para isso.
De qualquer forma, eu ainda não posso deixar de sentir uma certa vergonha profissional, a mesma que eu costumava sentir quando era um jovem médico e as enfermeiras precisavam me chamar a atenção quando eu me esquecia de alguma tarefa de rotina, o que me fazia pensar “Eu realmente preciso me lembrar de fazer isso da próxima vez.” Por causa de Pedro, eu vou me lembrar.
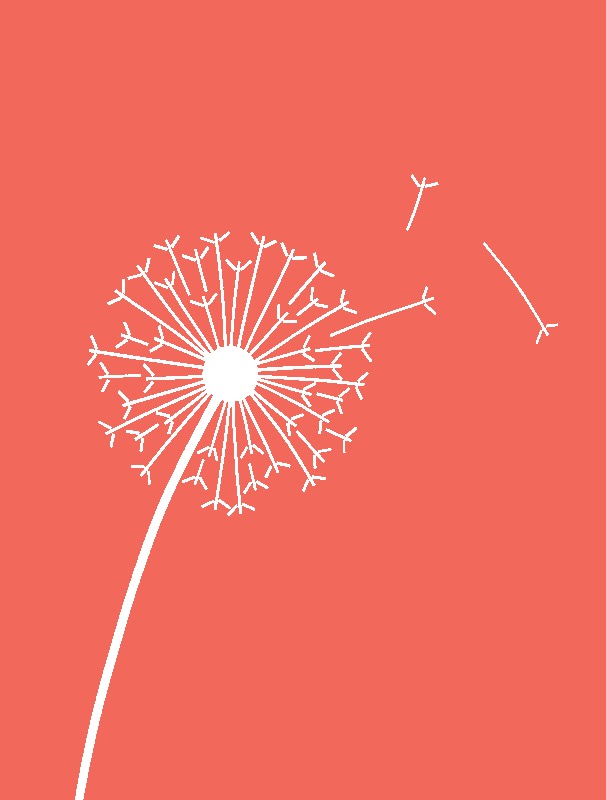



Deixar mensagem para Dona Rosalva Cancelar resposta