 Os olhos discretamente arregalados, ombros encolhidos denunciando a insegurança, e as mãos enroscadas uma na outra. Ela vinha conversar comigo depois de dois anos de batalhas contra o câncer do pai, portador de glioblastoma multiforme, um tumor cerebral muitas vezes fatal e de difícil tratamento. Estava visivelmente cansada, e tinha pedido para falar com alguém da equipe de Cuidados Paliativos já há algumas semanas, mas a médica responsável pela assistência ao seu pai tinha desencorajado a conversa, dizendo que era cedo demais. Ela insistiu, e depois de vários pedidos a médica concordou em solicitar nossa avaliação, não sem antes frisar que não adiantaria nada. E agora estávamos ali, uma de frente para a outra, conversando sobre o calvário que eles vinham enfrentando.
Os olhos discretamente arregalados, ombros encolhidos denunciando a insegurança, e as mãos enroscadas uma na outra. Ela vinha conversar comigo depois de dois anos de batalhas contra o câncer do pai, portador de glioblastoma multiforme, um tumor cerebral muitas vezes fatal e de difícil tratamento. Estava visivelmente cansada, e tinha pedido para falar com alguém da equipe de Cuidados Paliativos já há algumas semanas, mas a médica responsável pela assistência ao seu pai tinha desencorajado a conversa, dizendo que era cedo demais. Ela insistiu, e depois de vários pedidos a médica concordou em solicitar nossa avaliação, não sem antes frisar que não adiantaria nada. E agora estávamos ali, uma de frente para a outra, conversando sobre o calvário que eles vinham enfrentando.
S. Cícero* tinha perto de 70 anos e sempre foi um homem ativo e cheio de energia. A família toda girava em torno dele, como satélites orbitando ao redor do sol. Quando recebeu o diagnóstico do câncer, imediatamente adiantou que não suportaria uma vida de dependência, em que precisasse de ajuda até para se alimentar. Não queria que outros tivessem que tomar decisões por ele. Mas a doença, cruel como ela só, não respeita os desejos de ninguém. Após algumas linhas de tratamento, os medos de S. Cícero se materializaram em sua vida, e hoje ele não respondia a qualquer estímulo. Alimentava-se por uma sonda, precisava de fraldas, não reconhecia as pessoas, ficava longos períodos sem nem mesmo abrir os olhos. Quando abria, exibia seu olhar nebuloso, desprovido de qualquer emoção. Vinha sendo hospitalizado quase que continuamente devido infecções de repetição, complicações vasculares ou outras intercorrências, duas delas culminando em períodos na UTI. A filha, assistindo à vida sem qualquer significado do pai, tinha pedido à médica que não fizesse mais tratamentos agressivos, quimioterapias ou procedimentos que, todos sabiam, não devolveriam a vida que S. Cícero considerava minimamente aceitável. Mas ouviu da médica, para seu desespero, que enquanto há vida há esperança, e que o que ela estava pedindo era praticamente o assassinato do próprio pai. A médica ainda propôs uma nova linha de tratamento, experimental, que aparentemente poderia aumentar o tempo de vida dele em até algumas semanas. Disse ainda que era seu dever, enquanto médica, tentar de tudo pela vida de um paciente, e que não, não seria possível que ele melhorasse do ponto de vista neurológico, mas pelo menos prolongariam seu tempo de vida.
Foi no meio dessa angústia que começamos nossa conversa. Para mim era bastante claro que o que S. Cícero e sua filha consideravam como “vida” era bem diferente do conceito de sua médica. O aumento de “algumas semanas de vida”, sem considerar o “como” elas seriam vividas, tinha importância apenas para números estatísticos. Para S. Cícero, não significavam nada. Para sua filha, representavam mais sofrimento e angústia. Foi quando ela me perguntou, com a voz trêmula de quem começaria a chorar em breve: “Por que os médicos não conseguem parar?”
Creio que a resposta está no que eu chamo de Teoria do Martelo. Durante os anos de faculdade, nós médicos nos empenhamos em adquirir ferramentas para combater as doenças dos nossos pacientes. Aprendemos sobre como as doenças funcionam, como evoluem e quais os tratamentos que podem detê-las. Vemos todas as moléstias – entre elas o câncer – como pregos que precisam ser martelados, e nos esmeramos em garantir que tenhamos martelos potentes em nossas mãos, que possam dar conta do recado. Quanto mais potente o martelo, mais eficaz nossa martelada. Passamos nossas noites e finais de semana estudando guidelines de tratamento, indo a congressos, conversando com colegas e nos envolvendo com pesquisas de novos tratamentos, tudo com o objetivo de aumentarmos o poder do nosso martelo. É um esforço enorme. Pagamos um preço alto por isso, tanto em termos financeiros como, principalmente, no que diz respeito à nossa vida pessoal.
A questão é que, nessa busca incessante por ferramentas poderosas, muitos de nós acabam perdendo a capacidade de enxergar quando o que temos à nossa frente não é um prego. Temos pacientes tão frágeis, tão dominados por suas doenças, que estão muito mais para flores. E nós nos vemos confusos, diante deles, com um grande martelo nas mãos, e só. E é assim que nos pegamos desferindo furiosas marteladas sobre flores delicadas, destruindo suas pétalas, anulando seu perfume, eliminando seu legado.
O fato é que não somos obrigados a usar o que temos nas mãos. O que deveríamos fazer é aumentar nossas opções de ferramentas. Martelos são para pregos. Para flores, um bom regador funcionaria muito melhor. Então, que possamos aprender a manejar um regador. Ou alguém já viu um jardineiro martelando seu canteiro de rosas?
Médicos não são meramente prescritores de remédios. Médicos cuidam de pessoas que são, em sua mais íntima essência, totalmente diferentes umas das outras, e portanto precisam de abordagens diferentes. Entre nossas ferramentas mais poderosas está a sensibilidade para identificar suas diferenças, suas necessidades, sua essência. “Quando só o que você tem nas mãos é um martelo, tudo à sua frente lhe parece um prego”, diz a sabedoria popular. Médicos que praticam e exercem essa sensibilidade têm em suas mãos muito mais do que um martelo. É assim que conseguem enxergar as flores, e zelar para que seu perfume não se perca, para sempre, nos corredores dos hospitais.
*nome fictício para proteção da privacidade do paciente
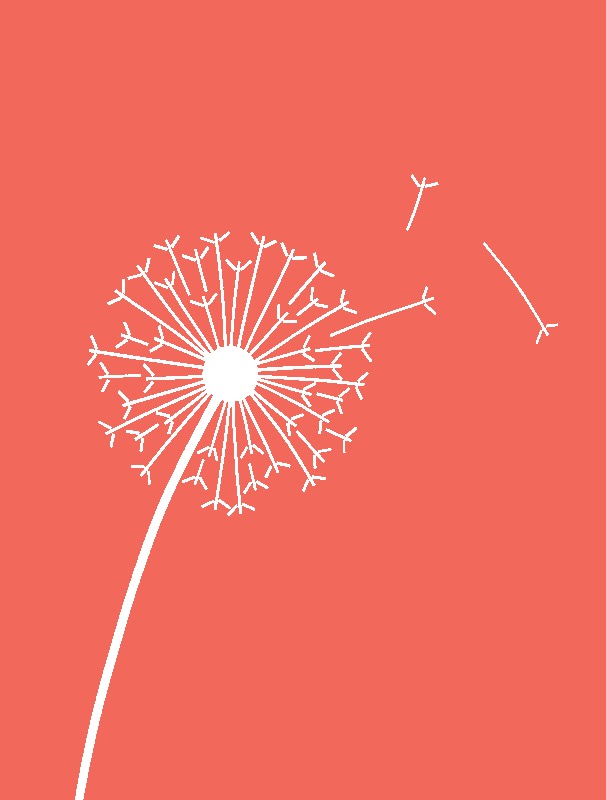



Deixar mensagem para Kesia Cancelar resposta